Teranga: Para Você, Para Mim, Para Nós
O ar cheira a cebola frita, poeira e carvão. O calor repousa sobre a cidade como um cobertor gasto. Em Dakar, no Senegal, ao fim da tarde, o tempo parece amolecer.
Na esquina, crianças jogam futebol descalças, chutando uma bola surrada contra um muro queimado de sol. Um grupo de mulheres conversa em wolof, sentadas em cadeiras plásticas. As mãos acompanham a fala como se cada frase tivesse ritmo próprio, como se o corpo também participasse da conversa. Uma delas estende um prato com pedaços de melancia a uma menina que passa correndo. Faz isso sem interromper a fala, sem esperar agradecimento.
A criança pega a fruta e segue em frente.
Mais adiante, um rapaz atravessa a rua com uma bandeja de metal. Três copos de attaya, o chá forte e espumante, equilibram-se nas bordas. Ele entrega um deles ao motorista de táxi, que continua ao volante como se esse gesto fizesse parte da paisagem. Nada é anunciado. Nada exige cerimônia. Há uma coreografia silenciosa que se aprende apenas observando.
Ao redor, os cuidados aparecem sem serem solicitados. Se uma criança chora, alguém se inclina. Se alguém está só, uma presença se aproxima. Se falta comida, uma mão surge com o necessário. Esses gestos não dependem de intimidade. O tecido social se mantém através de movimentos pequenos e consistentes. Esse tecido tem nome. Chamam de teranga.
Quando me tornei mãe e deixei o país onde cresci, imaginei que a mudança viria com o novo endereço. Pensei que outras rotinas, outros cheiros e outra língua seriam suficientes para transformar o que antes era automático. Mas descobri que tinha trazido comigo um manual invisível. Um conjunto de certezas herdadas, ideias fixas sobre proteção, previsibilidade e controle. Continuei criando minha filha com base nesses códigos, mesmo cercada por uma realidade que sugeria outros caminhos.
Minha filha tem dois anos e meio. Ao longo dos meses, fui percebendo que outras mães ao meu redor — vindas de lugares distintos, com valores diferentes dos meus — agiam de outra forma. Havia mais fluidez nos gestos. Mais confiança no coletivo. Às vezes, isso se revelava em um lanche oferecido sem hesitação. Outras vezes, em alguém que pegava uma criança no colo para acalmar, que corrigia com doçura, que acolhia com naturalidade.
No começo, aquilo me causava desconforto. Eu recuava, sem saber se estava sendo julgada, invadida ou apenas observada. Havia uma parte de mim que interpretava esses gestos como interferência. Demorou até que eu conseguisse enxergá-los como outra forma de presença. Uma forma que não espera ser chamada, mas também não ocupa espaço que não lhe cabe.
Em uma roda de conversa, ouvi pela primeira vez a palavra que descrevia aquele modo de estar no mundo. Teranga. Um conceito senegalês que fala de acolhimento, mas também de responsabilidade partilhada. Uma criança pertence à sua família, mas também pertence à comunidade. O alimento é dividido não quando sobra, mas porque dividir é o que se faz. A confiança se distribui não porque todos se conhecem, mas porque há uma base comum de respeito.
Nenhuma prática cultural é livre de contradições. O ideal nem sempre se confirma na rotina, e há dias em que o princípio se esgarça. Ainda assim, existe força nessa estrutura. Há algo no modo como o cuidado circula que transforma a maneira como enxergamos nossa função no mundo.
Venho de um lugar onde o bom pai ou a boa mãe é quem dá conta de tudo. Onde confiar em outra pessoa pode parecer um sinal de fraqueza. Cresci com a ideia de que dividir o cuidado era o mesmo que abrir mão dele. E ainda assim, ali, vendo outras pessoas participarem da vida da minha filha com leveza e envolvimento, algo em mim começou a mudar.
No dia em que outra mãe lhe ofereceu um pedaço de fruta e eu não interrompi, senti o corpo afrouxar. Quando um vizinho estendeu a mão para ajudá-la a atravessar a rua, percebi, no olhar dela, um tipo de segurança que eu não conseguiria ensinar sozinha. A cidade perdeu o contorno de ameaça. Tornou-se algo mais próximo, mais habitável. Não era apenas o lugar onde vivíamos, mas também um lugar que a via.
Aprendi que mudar de país não significa, por si só, mudar por dentro. É possível cruzar fronteiras sem sair do que se conhece. A transformação verdadeira não acontece quando tudo à volta é diferente, mas quando se aceita ser atravessado por outras formas de cuidado. Quando se permite que o afeto venha também dos outros.
Hoje, criar minha filha não é uma tarefa solitária. É uma prática que se constrói com a ajuda de quem está por perto. São gestos que vêm de diferentes mãos. São vozes que orientam sem necessidade de convite. São olhares atentos que não precisam explicar seu papel. Ela cresce cercada de gente que a vê, que se importa, que participa.
Teranga me ensinou que confiar nos outros não é abrir mão da minha função como mãe. É ampliá-la. E talvez o que uma criança precise, mais do que de alguém que sempre acerta, seja de um mundo que saiba recebê-la com generosidade.
📌 Este texto faz parte da edição de setembro da Gringa News, a newsletter do @gringasoficial .
👉 Clique aqui para ler a edição completa de setembro — e descubra o que mais mães nos Estados Unidos estão vivendo, sentindo e aprendendo.


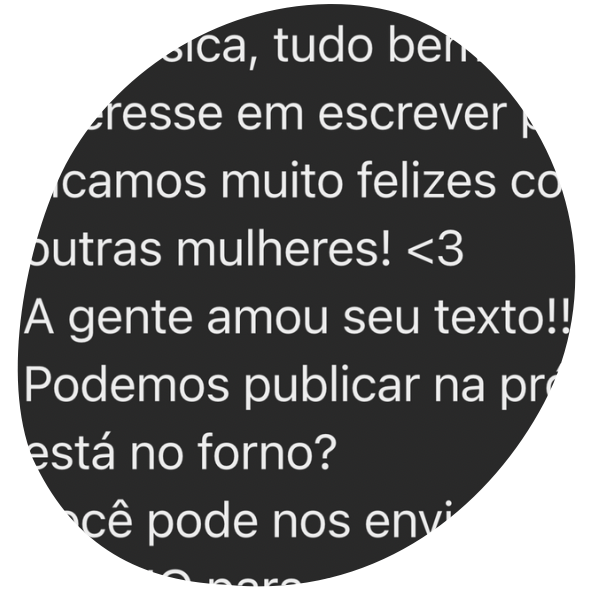
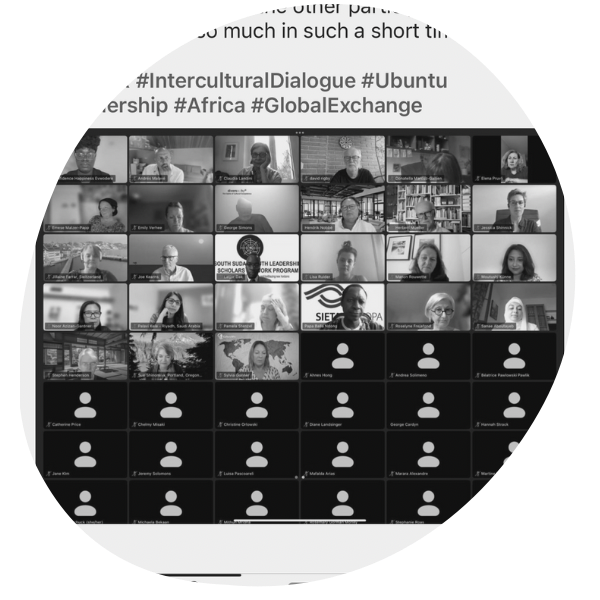
























Em Dakar, um gesto simples — uma fruta compartilhada, uma ajuda inesperada — revelou uma nova forma de cuidar. Teranga, a filosofia senegalesa do acolhimento, transformou a maneira como uma mãe expatriada entende o papel da comunidade na criação dos filhos.